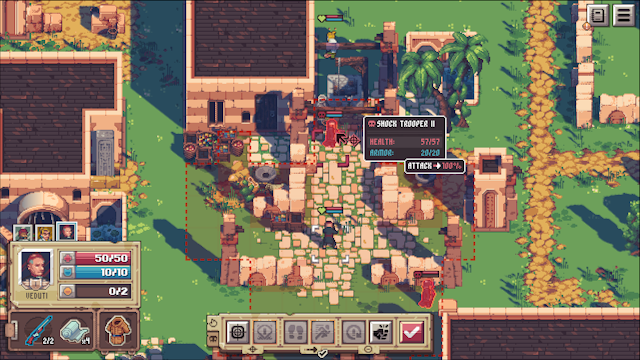A série Z Nation (resenha aqui) foi criada em 2014 por John Hyams e Karl Schaefer com uma proposta bem diferente da já consagrada The Walking Dead. Em vez de ser séria, dramática e "realista" como TWD, Z Nation é bem galhofa, levando o apocalipse para o lado da sátira.
Z Nation terminou em 2018 e em 2019 a dupla de produtores voltou com Black Summer, que se propõe ser uma prequel de Z Nation, mostrando o mundo ainda no início da epidemia. O tom adotado desta vez é bem diferente, mais sério e pé no chão.
Os zumbis fisicamente parecem pessoas normais ainda, não estão com os corpos apodrecidos nem com as roupas rasgadas. Parecem mais pessoas enlouquecidas do que mortos-vivos. Além disso, são do tipo "runner", zumbis que correm, diferente dos "walker" que andam lentamente e são o tipo mais conhecido nas histórias de zumbis. É o estilo de "zumbi berserk" que foi consagrado no filme Extermínio (2002).
Este detalhe acaba tornando os zumbis de Black Summer bem ameaçadores e as cenas de perseguição são realmente tensas. Enquanto em TWD os protagonistas se tornaram quase super-heróis e matam zumbis com facilidade e aos montes, aqui as pessoas se parecem mais com gente da vida real, que nunca teve treinamento para matar alguém, e passam por um sufoco lidando com os bichos enfurecidos.
A primeira temporada teve apenas oito episódios e são curtinhos, durando menos de 25 minutos, o que deixa a série bem fácil de maratonar. É visivelmente uma produção de baixo orçamento, com atores desconhecidos e provavelmente terá poucas temporadas, mas já pode ser incluída na lista de séries de zumbis que valem a pena assistir.
A segunda temporada veio em 2021 e agora mais focada ainda nos humanos. Os zumbis se tornaram bem menos importantes, funcionando mais como armadilhas no cenário do que como vilões. Os maiores perigos são os próprios humanos, pois o mundo agora é uma terra sem lei e nunca se sabe em quem confiar.
Nesse quesito, a segunda temporada enfatiza a maldade humana com frequência e desde o primeiro episódio. As pessoas estão constantemente se sacaneando, os personagens morrem num nível Game of Thrones e há esse clima de constante suspeita.
A estrutura narrativa da segunda temporada é bem caprichada, a ponto de até confundir um pouco, pois os eventos são contados sob o ponto de vista de diversos personagens e em ordem não cronológica, criando uma trama complexa, um quebra-cabeças de pequenas histórias que se combinam. É de fato um roteiro bem trabalhado.
Uma das melhores histórias acontece no episódio 5 (Cavalo Branco), em que vemos dois caras se encontrando ao acaso numa estrada e, superada a desconfiança inicial, começam a caminhar juntos, enfrentando os desafios de sobrevivência e se conhecendo.
A tensão e desconfiança entre eles, misturada à necessidade de se ajudarem e ao sentimento de amizade que começa a surgir, cria uma situação bem dramática e realista, um relacionamento complexo que torna os dois personagens bem interessantes.